A mídia atua de forma decisiva na construção de valores e de comportamentos sociais. A escolha das palavras desempenha um papel crucial na formação de opiniões e na promoção de valores éticos e respeitosos. Nesse contexto, o emprego de palavras inadequadas pode reforçar preconceitos, estereótipos ou tabus que ocultam a violência contra crianças e adolescentes.
Um termo que é amplamente utilizado, porém, suscita discussões sobre sua adequação e potencial estigmatização, carregando conotações negativas e sugerindo uma visão reducionista e descontextualizada, é “menor”. Este artigo se propõe a examinar o uso deste termo em diversas situações, desde referências à idade até questões legais envolvendo adolescentes, destacando a importância de adotar uma linguagem inclusiva e respeitosa.
O uso do termo “menor” e suas implicações
O termo “menor”, usado para designar crianças e adolescentes, em geral tem sentido pejorativo, desrespeitoso, contribuindo para a marginalização deste grupo. A expressão é um resquício do antigo Código de Menores, legislação que expressava por paradigma a doutrina da situação irregular, a criminalização da pobreza e a institucionalização de crianças e adolescentes vulneráveis.
No entanto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, e em seguida do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os termos “menor” ou “menor de idade” não devem ser utilizados para designar ou caracterizar crianças ou adolescentes. A mudança adequa-se a doutrina da proteção integral, onde meninos e meninas passam a ser sujeitos de direitos.
Com a troca de legislação, houve, portanto, o rompimento com as normas anteriores, entre elas, a mudança no sistema dos conceitos jurídicos aplicáveis às crianças e adolescentes, por exemplo, a abolição da terminologia “menor” quando envolvido em crime ou contravenção penal. O termo foi alterado, segundo o artigo 103 do ECA, para ato infracional, quando cometido por adolescente. Dessa forma, o adolescente (pessoa entre 12 e18 anos) não pratica infração penal, mas ato infracional. Para a criança (pessoa até 12 anos de idade incompletos), a terminologia correta é desvio de conduta (e não ato infracional). Nessa fase o ECA garante a proteção através de Medidas Específicas, contidas no artigo 101.
Adolescentes em conflito com a lei
O termo “menor” ainda é tratado, em certos meios, com preconceito, principalmente quando acontece a prática do ato infracional. Rotular adolescentes como “menores infratores” ou simplesmente “menores” contribui para a marginalização, obscurecendo suas histórias individuais e as possibilidades de ressocialização. O termo é usado, muitas vezes, para explicitar a segregação. Por exemplo, quando a questão envolve uma criança ou adolescente branco, e não vulnerável, dificilmente será chamado de “menor”. Já, quando o ato infracional é cometido por uma criança ou adolescente preto, ou indígena, ou em condição de vulnerabilidade, será sim, nominado como “menor”.
A prática do ato infracional não é incorporada como inerente a identidade de crianças e adolescente, mas vista como uma circunstância de vida que pode ser modificada. Logo, a terminologia correta para designar adolescentes que cometeram o ato infracional é “adolescentes em conflito com a lei” ou “adolescente a quem se atribui ato infracional”.
O adolescente que cometeu ato infracional será responsabilizado por meio das Medidas Socioeducativas – MSE, conforme determina o artigo 112 do ECA. Essas medidas variam de acordo com a gravidade do ato. De maneira geral, buscam orientar e apoiar adolescentes em conflito com a lei, com o objetivo de reintegrá-los à vida familiar e comunitária como prioridade absoluta.
É importante registrar que o termo “menor” possui grande carga pejorativa, na medida em que geralmente é utilizado em situações nas quais adolescentes cometem atos infracionais, ou se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Questões de idade e dignidade
Quando usado para se referir à idade, o termo “menor” pode reduzir as crianças e adolescentes a uma categoria homogênea, ignorando suas necessidades individuais e sua dignidade. Em vez de rotulá-los como “menores”, devemos reconhecer sua singularidade e respeitar sua fase de desenvolvimento, utilizando termos como crianças e adolescentes.
Vale lembrar, o ECA garante a proteção integral à criança e ao adolescente, normatizando o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, onde atribui à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao Poder Público, o dever de garantir, com prioridade absoluta, que meninos e meninas tenham os seus direitos assegurados, colocando-os a salvo de toda forma de violência
Esqueça, portanto, em qualquer circunstância, o uso de “menor” ou “menor de idade” para se referir a crianças e adolescentes, porque reproduz o conceito de que são cidadãos “incapazes”. A maioridade legal designa a idade em que um indivíduo já pode ser considerado apto para gozar de seus direitos, exercer suas obrigações e ser responsabilizado por suas ações. A expressão “menor de idade”, como dito anteriormente, remete ao extinto Código de Menores, dando a entender que se trata de alguém com menos direitos na sociedade – o que não é verdade, visto que a legislação brasileira atual os considera como sujeitos de direito e pessoas em desenvolvimento, destinatários da proteção integral.
Alternativas respeitosas e inclusivas
A substituição do termo “menor” não consiste em uma tarefa complicada. A língua portuguesa é muito rica e oferece diversas palavras que podem ser empregadas em seu lugar, ao discutir questões relacionadas à infância e à adolescência, empregando uma linguagem respeitosa e inclusiva. Algumas alternativas ao uso do termo “menor” incluem: criança, adolescente, garoto e garota, menino e menina, jovens, pessoas em fase de crescimento, pessoas em fase de desenvolvimento, população infantojuvenil. Essas terminologias reconhecem a individualidade e a dignidade das crianças e pessoas jovens, promovendo uma visão mais empática.
A escolha da linguagem que usamos reflete nossos valores e atitudes em relação aos outros. Como também a forma como nos comunicamos com relação às crianças e adolescentes tem um impacto significativo em sua autoestima, percepção de si mesmos e integração na sociedade. Ao repensar e desconstruir o uso do termo “menor” e adotar uma linguagem mais respeitosa e inclusiva, podemos contribuir para a promoção dos direitos humanos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as crianças e adolescentes sejam reconhecidos e valorizados em sua plenitude, mesmo perante suas singularidades e diferenças.
Ana Potyara é advogada e diretora Administrativa Financeira da ANDI – Comunicação e Direitos
Flávia Falcão é jornalista na ANDI – Comunicação e Direitos
ANDI – Comunicação e Direitos é uma organização da sociedade civil, que compõe a Coalizão pela Socioeducação. A ANDI tem como missão potencializar a comunicação como instrumento de garantia de direitos e promoção da diversidade e da inclusão social.


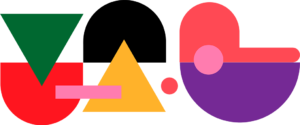
É muito desrespeitoso ainda nesse século
Inicialmente gostaria de parabenizar pela iniciativa e coragem de trazer à baila a necessidade de mudança no uso dos termos, principalmente porque são os operadores do Direito quem mais têm utilizado a terminologia extinta e revogada do código de menores.
A título de contribuição para o aperfeiçoamento do vosso trabalho gostaria de trazer alguns pontos que, SMJ, podem ser discutidos.
O 1º ponto se refere a afirmação de que o artigo 103 classifica como ato infracional apenas a conduta antijuridica praticada por adolescente. Entretanto a própria letra da lei não traz esta limitação. Portanto, de acordo com a letra da lei, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada por qualque pessoa com menos de 18 anos.
E o próximo ponto é a afirmação de que criança não pratica ato infracional. Mais uma informação contrária ao que está expresso na lei. No artigo 105 temos a informação de que “Ao ato infracional praticado por CRIANÇA…”. O artigo 230 do ECA traz a seguinte informação: “…..Privar a CRIANÇA ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL…..” No seu texto temos a informação de que isso deve ser chamado de “devio de conduta”. Desvio de conduta é assunto a ser tratado mais no campo da moral e dos bons costumes, jamais na seara do Direito penal.
Entendo ser preocupante este tipo de afirmação pois ela acaba afastando da análise da autoridade policial a verificação destas situações, inclusive para se certificar de que não tenha a participação de adolescentes ou de algum imputável. Logo, pela letra da lei, a criança comete sim ato infracional. O que muda são as medidas que lhes são direcionadas.
Por fim, quero destacar que a terminologia “adolescente em conflito com a lei” também é uma forma rotulante e discirminante, e deve ser evitada.
Quando o ECA foi escrito, seus redatores se preocuparam em não permitir nenhum tipo de rótulo e por esta razão é que na Lei 8.069/90 não encontramos em absolutamente nenhum artigo estes dois termos juntos: “adolescente infrator”. De igual modo também não existe este termo “adolescecente em conflito com a lei”. Os redatores foram cautelosos ao escreverem “adolescente autor de ato infracional”, adolescente a quem se atribui autoria de ato infraciona”.
O termo “adolescente em conflito com a lei só aparece uma única vez no §1º do artigo 1º da Lei federal 12.594/12. No restande desta lei não aparece mais nenhuma vez. Isso foi o suficinete para que o rótulo fosse amplamente difundido e repetido por vários profissionais, os quais alegam que são contra rótulos. Veja o paradoxo que cometem aqueles que assim difundem este termo.
O termo traz em si, pelo menos dois gravíssimos erros:
1º “adolescente EM”: esta expressão traz a informação implicita de que o adolescente é constantemente um infrator e eventualmente um adolescente, quando na verdade é o oposto, ou seja, ele é um adolescente que eventalmente infracionou;
2º “conflito com a lei”: temos aqui outro exagero. A Lei federal 8.069/90 estabeleceu que devemos classificar como ato infracional somente as condutas descritas como crime ou contravenção penal. Ou seja, a lei limitou as leis que seriam utilizadas para classificar o ato infracional. Portanto não são todas as leis em que o adolescente “conflitar” que será possivel classificar como ato infracional. Por exemplo, nas hipóteses em que o aluno apresenta infrequencia escolar. A lei 9394/96 e a lei 8.069/90 estabelecem que a frequencia é obrigatória na educação básica. E quando o adolescente não frequenta a escola ele está em conflito com estas leis citadas acima, mas que contudo, isso não nos permite classificar a conduta como ato infracional. Logo o uso deste termo também é um equívoco.
São estes os apontamentos que espero contribuir com seu valorozo trabalho.